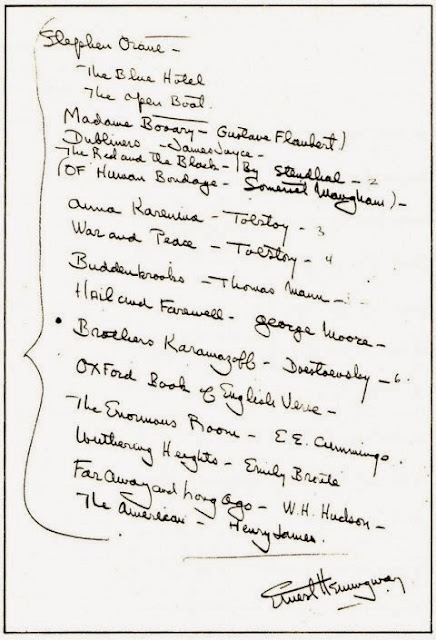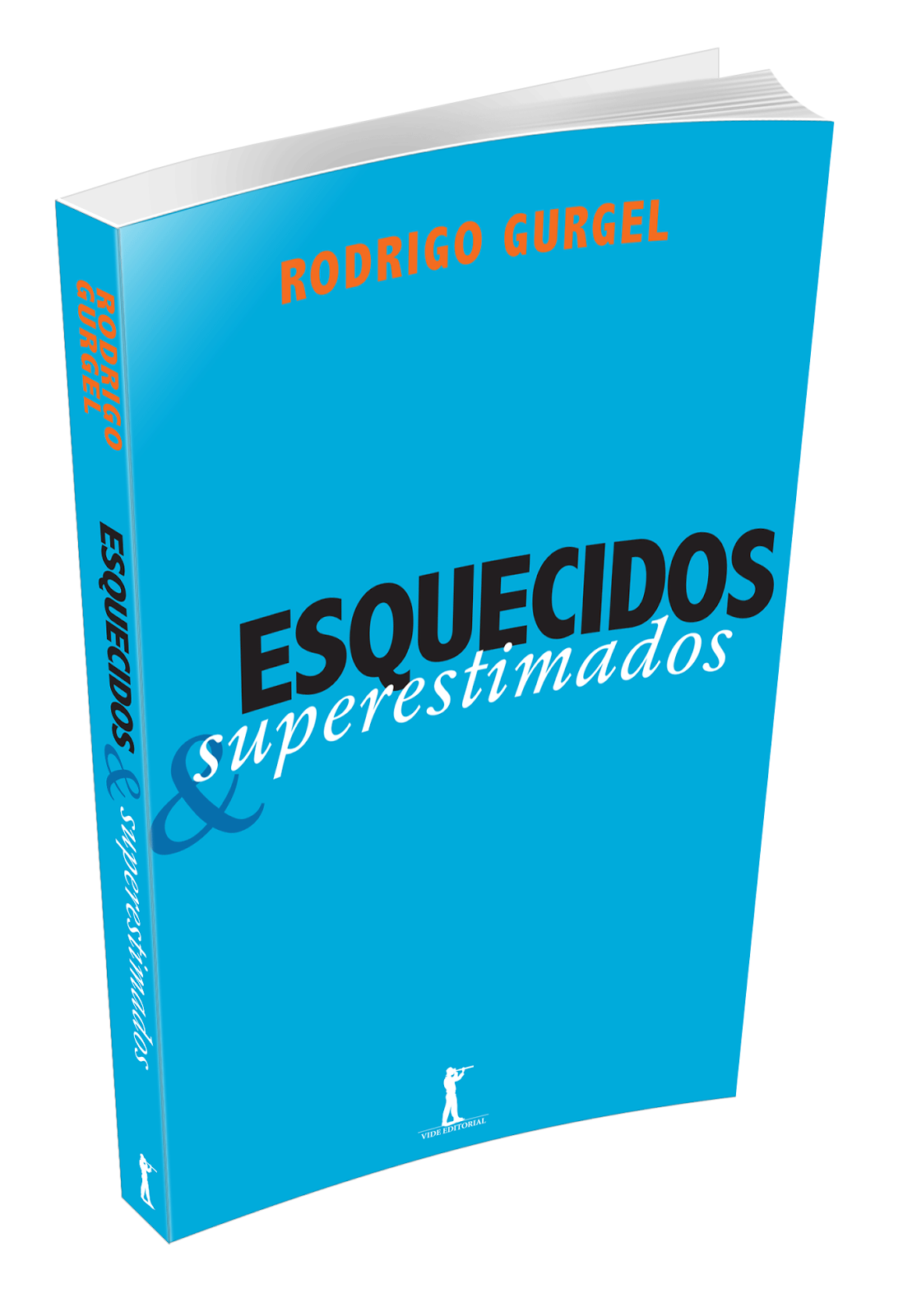Não há espaço melhor para averiguarmos as afirmações acima do que os principais centros urbanos. Na opinião do falecido Milton Santos, um marxista romântico,
a cidade é o lugar em que o Mundo se move mais; e os homens também. A co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento, mais vasta e densa a co-presença e também maiores as lições e o aprendizado. (1)
Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por nós, os realistas, entre os quais se inclui o narrador de O silencieiro, (2) escrito pelo argentino Antonio Di Benedetto. Para nós, o progresso transformou as cidades em confusas aglomerações, nas quais a opressão e o abuso vicejam.
Revolta e impotência
Mais do que os comportamentos expressos pelo sufixo eiro, o narrador-personagem do romance de Di Benedetto anseia desesperadamente pelo silêncio. E não se trata de uma aspiração, mas, sim, de uma febre cuja intensidade aumenta na exata medida em que o nível dos ruídos cresce.
Os barulhos, elementos inextricáveis da cidade, intrometem-se no cotidiano desse homem, ganhando, pouco a pouco, existência própria. Deixam de ser meras conseqüências do aprimoramento tecnológico e se transformam em entidades possuidoras de uma teimosia que não só perturba a vida, mas a altera profundamente. Recolhido ao quarto, o narrador ouve, por exemplo, os sons aflitivos da oficina mecânica instalada no imóvel vizinho. Eles invadem o aposento; e a percepção do ruído é tão intensa, que não se trata de apenas ouvi-lo, mas de vivenciá-lo tal qual uma pena, um sofrimento: “Não o vejo, simplesmente o padeço”. Em outro trecho, ele dirá que o ruído chega ao “dorso” do dormitório, criando uma metáfora – repetida no transcorrer da obra – que não deixa dúvidas sobre a força do barulho, capaz de atingir o quarto como se este fosse parte do corpo do protagonista.
Os ruídos indesejados arrombam a privacidade, obrigando os personagens a participarem do que não lhes interessa: um churrasco para comemorar a inauguração da oficina; os bailes no salão aberto do outro lado da rua; o programa de rádio que o proprietário da venda próxima escuta no último volume.
Página a página, os rumores circundam e acossam o narrador, obrigando-o a ser o que não deseja, a agir em desacordo com sua índole. Violentado, ele busca refúgio na lei, mas o estudo do Código Civil mostra-lhe as dubiedades do texto: uma defesa do cidadão, mas também uma perigosa teia, na qual o reclamante pode se tornar réu.
Não há segurança, portanto. E a própria espera do barulho, sua antevisão, a certeza de que ele se repetirá, despedaça o narrador. O barulho, então, migra da oficina para o âmago do personagem, transformando-o num hospedeiro revoltado, mas impotente:
Volto ao lar. No caminho, a cidade que desce pela minha rua apaga suas vitrines, baixa persianas: desmantela seus andaimes de trabalho. Até amanhã.
Mas resta um lugar onde a
atividade prossegue: no dorso da minha casa.
A luz cinge-se ao canto
onde está o torno, esse torno que pulsa conseqüente, como descubro que começa a
pulsar, na minha cabeça, uma veia que bombeia algo mais sacrificada que as
outras, e dói um pouco.
Lentamente, os ruídos – cuja “sina é avançar” – o levam a pequenas distrações, pequenos erros, falhas sem importância. E à medida que o barulho deixa de ser exceção para se tornar a norma irrevogável, todas as soluções possíveis fracassam e as polaridades do real se alternam. A partir desse ponto, o drama envereda rumo à loucura, cumprindo as etapas do estresse, da doença e, finalmente, do delírio. Mas seria ingênuo tratar esse narrador-personagem sem nome como um caso patológico. Na verdade, são os ruídos que lhe subtraem essência e existência, até levá-lo à despersonalização extrema, ao desejo da morte como promessa de um silêncio absoluto: “Penso no Além e imagino um silêncio incorruptível”.
Gênese e estilo
Enquanto o personagem esquadrinha a cidade em sua busca por silêncio, também sonha escrever um livro, cujo tema central seria o desamparo. Mas é exatamente essa a obra que se faz enquanto ele investiga a origem dos barulhos, livro no qual ele se encontra, cada vez mais privado do que lhe é indispensável, escrito, contudo, por outra pessoa, alguém chamado Antonio Di Benedetto. O autor, inclusive, revela – em entrevista concedida a Günter W. Lorenz (3) – a gênese do romance, num relato que, guardadas as devidas proporções, assemelha-se à trajetória de seu personagem:
[...] Digo que em El silenciero discuto o ruído físico e metafísico. Os dois me perturbam, como pessoa
comum e como romancista, desde certa época penosa de minha vida. Tinha o tema,
mas não conseguia nem tramar a narração nem ver e definir os personagens. Ainda
que o protagonista fosse eu mesmo! Quando tive acesso à Europa, convenci-me de
que em Paris – cidade que supunha mais ruidosa e atormentadora –, com mais
seres atormentados pelas duas classes de ruídos, me envolveriam os elementos
necessários para os argumentos. Puro engano. Não vi nem soube observar, ou
melhor, não ouvi nem soube escutar, nem em Paris, nem em Bordéus, nem em
Amsterdã, nem em
Londres. Regressei à Argentina. Fiz-me todo ouvidos. Bem, é
um exagero, pois na verdade não precisava me empenhar, os ruídos bloqueavam-me
novamente, mortificantes e destruidores. Observei, estudei, o problema se
encarnou em personagens que começaram a dar forma ao romance. Nasceu El
silenciero: psicologias, comportamentos,
neuroses, metafísica de homens de cidade, talvez de qualquer cidade moderna,
industrial ou pré-industrial; todavia, captadas, aprendidas, aprofundadas em
meu milieu.
Di Benedetto constrói sua história por meio de um estilo tenso, de frases enxutas, objetivas: uma prosa antibarroca, que dá vida à voz cortante do narrador desconfiado, prestes a explodir, andando pelas ruas como se os barulhos o tocaiassem a cada esquina. Narrada em primeira pessoa, a saga desesperante apresenta um homem indefeso, ciente de seus direitos, mas constatando a cada passo que o Estado, as pessoas e a tecnologia trabalham contra ele. Os verbos ressaltam dos períodos, formando um cortejo de sons ruidosos – bater, pregar, rebitar, fender, limar, acelerar, acionar, acometer, esfregar, morder, triturar – que acabam por engolfar o leitor.
De fato, a precisão das palavras torna flagrante a materialidade dos ruídos e os diferentes estados de ânimo que o narrador observa ou experimenta. Por exemplo, ao se referir à mãe, com quem vive, ele afirma: “Andava crivada a buzinaços”. E quando o delírio sobrevém, a confusão mental é evidente: “Na esquina bebe – ou esteve bebendo – uma grossa serpente que se arrasta pela rua. O bombeiro que cuida dela nesta ponta me tira a apreensão: não se trata do meu lar”.
A vida imposta
No período de tempo em que finalizo esta análise, o fragor das ruas invade mais uma vez o apartamento. Uma serra circular guincha com estridência em algum ponto; da quadra da escola, situada no quarteirão em frente, sobe insistente microfonia e a voz melancólica do funcionário que testa o amplificador dezenas de vezes; ônibus e carros aceleram, freiam, buzinam; um operário arranca a marteladas a estrutura de ferro que, presa à marquise do prédio, sustentava um letreiro. É sábado, início da manhã, o inferno da cidade apenas começa – e não sou o protagonista de O silencieiro. Ou talvez seja, talvez tenha sido sempre, sem saber.
A cidade realmente conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há muito tempo, do nosso controle. Entre a elaboração da ciência e os resultados que ela provoca – em termos de técnicas, instrumentos, modos de vida e variações de comportamento –, existe um abismo de irracionalidade, diante do qual o narrador de O silencieiro se diz um mártir, “mártir da pretensão de viver minha vida e não a vida alheia, a vida imposta”. Como resposta, ouve de um político, ex-jornalista, a acusação de ser “inimigo do progresso”, ou seja, nada mais que o velho recurso dos cínicos, o lugar-comum que serve para manter as coisas exatamente onde estão.
Assim, vivendo sob a arbitrariedade, o narrador-personagem descobre, com amargura, que a lógica e a ética não servem à vida real. Os fatos se colocam apenas; são o que são. Os ruídos produzem loucos que, por sua vez, buscam novos ruídos – ou uma solução excêntrica, semelhante à experimentada pelo silencieiro, mas de conseqüências injustas e implacáveis.
(1) Em “Metrópole: a força dos fracos é seu tempo lento” (Técnica – Espaço – Tempo: globalização e meio técnico-científico
informacional, Editora Hucitec, 2ª edição, SP, 1996).
(2) Editora Globo, SP, 2006.
(3) Lorenz, Günter W. Diálogo com a América
Latina – panorama de uma literatura do futuro, E.P.U. – Editora Pedagógica
e Universitária Ltda., SP, 1973.